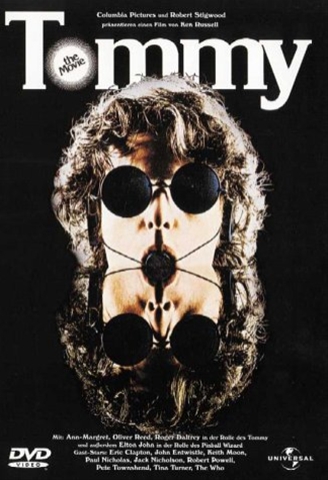A idade simplifica o homem. De certo modo, é a segunda vez em uma semana que ouço idéia parecida. A primeira foi no recém-resenhado
“Admirável Mundo Novo”: dois personagens discutem sobre
Deus, e um deles diz que, quando estamos velhos,
Deus é algo a que nos apegamos, por ser concreto, imutável, absoluto. Por outro lado, em
“Onde os Fracos Não Têm Vez”, vencedor do
Oscar de
Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado e
Ator Coadjuvante, o mesmo personagem que diz a frase que inicia esse texto constata, em dado momento: “
Eu sempre achei que, quando ficasse velho, Deus entraria em minha vida de alguma forma. Mas ele não o fez." Tal personagem se trata de Ed Tom Bell, xerife em uma pequena cidade no Texas. Com uma narração sua, somos introduzidos ao filme. O Oeste não é mais o mesmo. No passado, os xerifes impunham respeito somente com sua presença, sua autoridade. Hoje, mesmo armados até os dentes precisam suar muito para parar os criminosos. Estes que estão cada vez piores e mais insanos, praticando crimes hediondos como finalidade em si.
Na verdade, o filme é muito mais do que aparenta ser. A sinopse geral dá conta que um soldador, Llewelyn Moss, quando estava caçando, topou por acaso com uma chacina, quilos de drogas, e um moribundo implorando por água. Ele encontra também uma maleta, repleta por dois milhões de dólares. Obviamente, esse dinheiro tem dono. Mas quem vem atrás de Llewelyn é uma besta, a personificação da Morte, um assassino chamado Anton Chigurh. Caberá ao xerife tentar salvar Llewelyn e parar Chigurh.
Mas, quem assistir ao filme esperando que tudo realmente gire em torno dessa história, irá odiá-lo. Seguindo a toada de muitos filmes atuais (provável reflexo de seu tempo), o final desse filme é ambíguo, e até mesmo anti-climático. Para extrair dele seu real sentido, é preciso compreender que a história do filme é só uma figura, uma imagem para os temas em torno dos quais o filme gira: a passagem do tempo, a mudança, e a própria natureza humana e da violência, com seus intermináveis mistérios.
No filme, o maior desses mistérios é justamente Chigurh. Nunca ficamos sabendo para quem ele trabalha (ou se trabalha para alguém), o porquê de ter começado a caçar Moss, ou as motivações para suas ações posteriores. Ele de certa forma representa o acaso. Mas um acaso que tem regras muito rígidas. O modo de ser e pensar dele pode ser completamente estranho a qualquer um, mas ele ainda assim segue uma lógica própria. Isso é traduzido em uma das melhores cenas da obra, em que um personagem conversa com Chigurh, e, encurralado, diz:
- Você tem idéia do quanto é louco?
- Você se refere à natureza desta conversa?
- Eu me refiro à natureza de sua pessoa.
E o acaso se torna ainda mais emblemático na penúltima cena do filme, última de Chigurh no longa. Não vou contar aqui para não estragar, mas tudo que a envolve nos faz pensar em como o acaso é poderoso. Mas, ainda assim, não age sozinho. Como fora afirmado logo antes, é tudo uma questão de escolhas. O acaso existe, sim, mas são nossas escolhas que determinarão seu reflexo. Moss, todo estropiado, tendo que pagar para conseguir um casaco, enquanto Chigurh o conseguiria de graça, se quisesse, é a imagem dessa lei.
Enquanto filme, ainda, “Fracos” entra no grupo daqueles inclassificáveis. “Sangue Negro” ou “Desejo e Reparação”, são dramas ao seu próprio modo. Mas “Fracos” é uma mistura estranha de ação, suspense, drama e um humor negro, cruel por vezes, mas muito engraçado. Uma das melhores frases do filme é quando Moss diz: “Gastei 1,5 milhão em prostitutas e uísque. resto, eu desperdicei”. Mas é melhor eu parar por aqui, não vou entregar tudo de bom que o filme tem. Essa foi uma das críticas mais longas que eu já escrevi, e mais detalhadas, justamente pelo filme suscitar tamanho número de perguntas e dúvidas. Entretanto, meu objetivo é que vocês se sintam incentivados a ver os filmes resenhados, para que depois quem sabe possamos falar sobre eles.
Enfim: “Onde os Fracos Não Têm Vez” é sim uma obra prima dos Irmãos Coen, e mereceu ganhar o Oscar, embora “Sangue Negro” também seja espetacular. Será necessária uma segunda audiência do filme para entendê-lo melhor, mas assim, direto e fresco na memória, já é impactante o suficiente. Na última cena, meu coração disparou de expectativa, algo até um pouco estranho considerando que, como já dito, ela é extremamente anti-climática. Mas isso não impede que seja perfeita, afinal, a arte sempre nos surpreende. E a surpresa, aqui, é extremamente ambígua, e por isso tão tensa. Ao final da sessão, é difícil decidir se aquilo foi algum restolho de esperança, ou a simples constatação do vazio.
P.S.: Poema de Yeats de onde o título origianl do livro (e do filme, portanto), foi retirado:
http://poetry.poetryx.com/poems/1575/