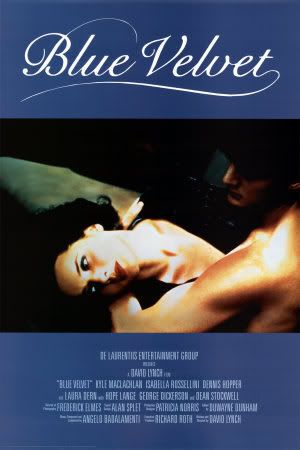O surrealismo toma emprestado dos sonhos as “técnicas narrativas”, a imagética e o nonsense aparente.
Luis Buñuel, o cineasta surrealista espanhol, segue fortemente essa linha. Amigo e colega de artistas como
Salvador Dalí e
Federico García Lorca, seus filmes, mais do que apresentarem situações absurdas ou ininteligíveis, cria neles uma atmosfera de sonho, que me lembrou grandemente a do
Breve Romance de Sonho, de
Arthur Schnitzler (dezletras duas vogais, dezletras duasvogais), que depois seria adaptado ao cinema na última obra de
Stanley Kubrick,
De Olhos Bem Fechados.
Assim, interpretar com precisão os filmes de Buñuel é de todo inútil, pois sua chave não está em símbolos reconhecíveis da realidade, mas no inconsciente. Seu primeiro filme, o curta Um Cão Andaluz, foi escrito junto a Salvador Dalí usando o método do cadáver esquisito (cadavre exquis), um jogo que consistia em colocar na mesma frase palavras inusitadas, usando uma estrutura preestabelecida (artigo, substantivo, adjetivo e verbo) para criar um todo surreal. Na primeira – e mais famosa – cena do filme, um homem (interpretado pelo próprio Buñuel) afia uma navalha e corta com ela o olho de uma mulher, enquanto uma nuvem fina passa pela Lua. Depois, outras cenas, de semelhante bizarrice e violência, se sucedem.
O curta já foi interpretado como a representação da memória de um assassino, mas o fato é que as respostas não estão mesmo na superfície. A navalha cortando o olho em paralelo à nuvem cortando a Lua é um símbolo do transitório que violenta o perene ou só uma imagem criada em um jogo? Outra teoria é a de que o filme seria um ataque a Lorca (que era andaluz), por este ser homossexual, enquanto Buñuel era fortemente machista. Resumindo: as interpretações são inúmeras.
Ainda mais quando se considera quão polêmico Buñuel era, pois pregava a total liberdade sexual e de imaginação, era ateu, tinha uma queda pelo comunismo, etc., e assim, pode-se dar muitos sentidos às suas obras que muitas vezes não são simplesmente os que ele pretendia. A uma mesma cena filmada por ele, você pode atribuir o tom mais sacrílego ou o mais santo. Depende de como seu inconsciente apreende o que vê.
Por isso é tão difícil fazer a exegese de O Anjo Exterminador, uma de suas maiores obras-primas. Cheio de cenas legendárias, pode-se entender o que está ali de diferentes maneiras. Aqui, porém, Buñuel foi menos radical. O tom e o clima continuam surreais, mas a narrativa em si é mais convencional, e talvez por isso ainda mais genial. O filme é especialmente célebre por possuir um dos plots mais originais da história do cinema: um grupo de pessoas da alta sociedade, após passar a noite na casa de um deles, se vê impossibilitado de sair da sala, mesmo com a porta escancarada.
Desde o início, somos envolvidos pela estranheza: após uma cena de um portal e de arquitraves de uma catedral ao som de um coro, vemos os empregados da mansão, sem nem eles próprios saberem o porquê, indo embora, de fato abandonando os patrões, mesmo sendo um dia especial, com um jantar para várias pessoas. Mesmo o cozinheiro, logo que a comida fica pronta, vai embora, e os garçons também se vão. Somente o mordomo, que aparenta vãs pretensões de classe, permanece na casa. Duas empregadas, após se aprontarem para partir, saem da cozinha, mas são forçadas a voltar pela entrada do grupo de burgueses, que acaba de chegar da ópera. Após algum tempo, tentam de novo, mas ainda outra vez o mesmo grupo está entrando pela porta, num lance quase imperceptível para os que não estiverem atentos. Depois, o anfitrião dá as boas vindas a todos, e faz um brinde a uma mulher do grupo, que foi a cantora principal da ópera. Comentários de toda sorte, maldosos e sinceros, são soltos sobre a mesa. O anfitrião então toma a taça novamente e repete o brinde e as boas vindas, mas dessa vez parece notar algo de estranho nisso, ainda que todo o resto da mesa o ignore. Essas duas repetições são um prenúncio do que virá pela frente (e acabará por libertá-los).
Após o jantar, se reúnem na sala de estar, onde uma das mulheres toca uma música no piano. Quando ela termina, todos se adiantam em cumprimentá-la, elogiá-la, com aquele famoso tom cordial usados pelos “artistas” de televisão para se referir aos seus colegas. Entretanto, ao invés de começarem a ir embora, o que seria o curso natural das coisas, alguns começam a tirar o paletó e se ajeitar na sala. Outros ficam escandalizados, mas os próprios anfitriões repetem esses gestos, procurando diminuir o constrangimento. Por fim, todos dormem juntos no chão da sala.
Quando nasce o sol, eles começam a levantar e se indagar confusos como aquilo começou a acontecer. Ao se dirigir à porta para sair, uma mulher se vê parada por uma barreira invisível. Parece que ela esqueceu como se faz. Começa aí o momento de maior tensão do filme. É impressionante como o gênio de Buñuel foi capaz de criar cenas tão tensas sem usar sequer efeitos de som ou trilha sonora, somente a dramaticidade inerente à situação e a atuação de seus atores. Presos e sem entender o que acontece, os aristocratas, da “alta sociedade”, começam então a regredir. Começa o “extermínio”.
Mas não no sentido literal da palavra. Exterminados mesmo, somente três personagens: um velho rabugento, que desde o início do filme estava descontente com a situação, adoece e morre, proferindo últimas palavras de grande impacto: “Contente... mas não pelo extermínio.” E também um casal de amantes, que se trancara para se entregar ao amor nas noites silenciosas do “cativeiro” em um armário, e acaba se suicidando, levados provavelmente pela crença do amor além da vida.
O extermínio, aqui, é das convenções e das máscaras. Acusações logo são trocadas. Muitos dizem que o culpado é o anfitrião. Sem comida e água, alguns adoecem, e outros comem papel, e outros se alimentam de drogas que serviriam para amenizar a dor dos adoecidos. Quando conseguem arrebentar um cano, após um bom tempo sem água, todos se espremem, brigando como animais pela posse do líquido. O armário que tem a imagem de um anjo na porta é usado como banheiro. O cheiro é insuportável. Enquanto algumas mulheres doentes deliram, outras fazem promessas para poder sair dali, e outras ainda usam penas e patas de galinhas, fazendo oferendas e abraçando o misticismo mais primário como maneira de tentar escapar.
No dia do jantar, a anfitriã trouxera dois cordeiros, que serviriam posteriormente de alimento talvez a seu urso de estimação. Mas urso e cordeiros escapam, e começam a rondar pela mansão. Atraídos por alguma força, ou levados pelo instinto, os dois carneirinhos entram pela porta da sala, e são cercados, lentamente, por uma roda de predadores famintos trajando roupas de gala. O urso, por sua vez, permanece solto, zanzando pela casa.
Lá fora, a mansão dos cativos já virou objeto de curiosidade. O povo se aglomera, a polícia faz ronda, mas ninguém consegue entrar. Num dado momento, os filhos de um dos casais presos lá dentro faz uma visita, e um dos meninos chega a dar alguns passos para dentro do jardim da mansão, mas logo retorna assustado. Então, após o exército instituir ali quarentena, os funcionários, que haviam ido embora no dia do jantar, voltam a se encontrar em frente ao portão, e conversam despreocupadamente.
Enquanto isso, dentro da casa, a situação é crítica. Alguns homens querem matar o anfitrião (pobre coitado que era o mais preocupado em manter a ordem, e ainda por cima corno), para acabar de vez com aquilo. O coitado, corajosamente, diz que ele mesmo dará cabo daquilo, e abre uma gaveta de onde tira uma pequena pistola escondida. Neste momento, porém, uma das mulheres, a mais jovem, diz a todos para pararem. Sim, ela diz, estão todos nas mesmas posições, nos mesmos lugares da noite em que ficaram presos. Trocaram de lugar centenas de vezes durante aqueles dias, mas era naquele momento que haviam voltado à formação original. Ela pede então para a outra mulher tocar a música ao piano, o que ela faz, e para os outros cumprimentarem-na, como da outra noite. Dessa vez, porém, não há falsidade. Todos repetem as mesmas falas, os mesmos cumprimentos, verdadeiramente encantados e suplicantes. Então, temerosos, se dirigem à porta, e conseguem sair, correndo então rapidamente para o jardim. Estão livres.
Na última cena, encontramos o grupo novamente, desta vez em uma igreja. Uma das mulheres prometera rezar uma missa especial caso conseguissem sair. Todos os que estiveram presos se encontram na primeira fila de bancos. A câmera passeia pelos seus rostos, povoados por diferentes expressões. A missa termina e o padre, com seus ajudantes, se dirigem para a sacristia. Ao tentar atravessar a porta, entretanto, são impedidos por algo. Enquanto isso, no portal da igreja, pessoas se amontoam numa confusão, querendo dar uns aos outros a chance de saírem primeiro, mas ninguém saindo de fato. Sinos badalam, uma bandeira de quarentena drapeja ao vento, o exército expulsa uma multidão ensandecida dos arredores, e um rebanho de cordeiros trota para dentro da igreja. O Anjo Exterminador cumpre seu trabalho mais uma vez.
Como se pode ver, é bastante complexo coordenar todas as informações do filme. De uma maneira geral, pode-se dizer que os aristocratas, com seus hábitos falsos e afetados, com suas vidas mentirosas, estavam de fato presos, mesmo antes da noite do jantar. O que os impede de sair não é alguma força mágica, mas eles mesmos. Não conseguem superar certas barreiras, se fecharam em invólucros, dentro de disfarces e hábitos obtusos. Passam então, por um regresso aos seus verdadeiros “eus”. Todas as convenções e máscaras sociais caem por terra. Todas as inclinações violentas, corruptas, cruéis emergem e vazam. É um extermínio de tudo que os prendia. Quando se vêem a frente da mesma situação, e conseguem trata-la com sinceridade, estão de fato libertos, e então saem para o dia, visto que suas barreiras já se foram.
Essas mesmas barreiras, todavia, podem se erigir novamente, sozinhas e com uma velocidade ímpar. E é o que acontece. Porque fizeram a promessa do “Te Deum”, se vêem forçados a cumpri-la, e vestem novamente suas máscaras. Alguns estão ali na igreja sinceramente, mas a maioria está porque não tinha escolha. Assim, o “Anjo Exterminador” precisa, ainda uma vez, deixá-los enxergar suas prisões, para poderem quebrá-las e escapar. Se Buñuel pretendia que os cordeiros fossem um símbolo religioso, sacrificando-se por aqueles que estão presos às máscaras (assim como Jesus se sacrificou por aquele presos ao pecado), ou mais um símbolo dessas mesmas máscaras e insinceridades, é difícil dizer. É certo que ele era ateu e anti-clerical, mas era antes de tudo um artista.
E de fato, a resposta para essa, e outras perguntas a que o filme nos submete, só será encontrada mesmo numa análise subjetiva, pois se o surrealismo é a arte dos símbolos, esses símbolos adquirem diferentes significados para aqueles que os contemplam. E a única resposta certeira e objetiva é a que Buñuel é um dos maiores cineastas, e O Anjo Exterminador, um dos maiores filmes da história.